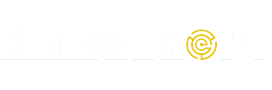A 4 de março do presente ano contabilizaram-se 20 anos desde a queda da ponte Entre-Os-Rios, uma tragédia que, ainda hoje, assombra muitas famílias. Com o intuito de conhecer melhor quais as dificuldades que os familiares das vítimas ainda vivem, o EMISSOR procurou conhecer melhor a história da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia da Ponte de Entre-os-Rios, criada no âmbito da entreajuda, luta e esperança pela vinda de dias melhores.
Em conversa com Marlene Gomes, membro da direção da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia da Ponte de Entre-os-Rios, percebemos que houve uma necessidade da criação de uma associação após a queda da ponte. De acordo com as palavras de Marlene, “em abril de 2002 construíram a associação dos familiares das vítimas, uma instituição particular de solidariedade social”, contando que o objetivo consistiu em “dar apoio a estes familiares, quer ao nível de recursos monetários, porque houve algumas famílias e alguns jovens que, na altura, menores da idade, ficaram órfãos”.

A criação da associação consistiu no nascimento de uma obra de cariz social “por um lado para ajudar, mas por outro lado, acabou por apoiar e aconchegar todos aqueles que diretamente foram atingidos pela perda destes familiares”, conta Marlene Gomes, acrescentando que “no fundo, também quiseram imortalizar estas vidas que se perderam e a forma que arranjaram também foi criar algo em função daquilo que aconteceu para imortalizar”.
O Luto
“A maioria não se conformou”, são as palavras que Marlene Gomes escolhe quando perguntamos sobre como é que os familiares das vítimas reagiram ao luto.
“Julgamos que, pelo processo de luto, foram mais as pessoas que nem sequer o iniciaram do que aquelas que conseguiram e que quiseram. Não é só conseguir. As pessoas têm que querer. Ao fim de 20 anos há muitas pessoas que não querem”, realça.
A 4 de março de 2021 contabilizaram-se 20 anos desde a queda da ponte. Os familiares dirigiram-se ao memorial e, de acordo com Marlene Gomes, houve uma pessoa que “chegou ao meio das escadas e precisou de ajuda para entrar. Porque a força faltou-lhe nas pernas. E isto quer dizer muito ao fim de 20 anos”.
“Ao fim de 20 anos ainda há pessoas, familiares, que não atravessam a ponte. Ao fim de 20 anos ainda há pessoas que dizem ‘eu agora já não vou ao monumento porque quero esquecer’, como se isso fosse possível…”
São estas as estratégias que os familiares das vítimas, muitas das vezes, optam por seguir, objetivando avançar com o processo de luto, “mas de uma forma que a gente sabe que não é viável”, completa Marlene.

De acordo com Lucinda Giesta, psicóloga na associação há 4 anos, “está estudado cientificamente que, perante uma situação de luto, de morte, é muito importante um ritual de despedida. As pessoas necessitam de um ritual de despedida. De alguma coisa que lhes permita marcar e se despedirem”, explica a psicóloga.
Até hoje, ainda existem famílias a quem o corpo dos familiares não lhes foi entregue, uma vez que acabaram por desaparecer após a queda da ponte. Este é um dos principais problemas para a realização do luto.
Lucinda Giesta adianta que “se não há aparecimento de um corpo, é mais difícil fazermos o luto, porque o luto implica passarmos por várias fases até à aceitação, nomeadamente a negação, um período mais deprimido, um período de negociação, de raiva, até chegarmos à aceitação”.
“Para passarmos por estas fases todas é importante a confrontação com uma realidade num momento inicial. Se não, não vamos passar da fase de negação”
(Re) Aprender a viver
“As pessoas não lidam todas, nem lidaram todas da mesma forma”, relata a psicóloga da associação, contando que muitos dos familiares tentaram dar um novo significado ao acontecimento, seja através da criação da associação, através da casa de acolhimento criada mais tarde, no nascimento de um filho, na espiritualidade, ou seja, “cada pessoa viveu o trauma à sua maneira”.
Com base no trauma vivido, Marlene Gomes descreve que “o mais difícil para estas pessoas é a aceitação, porque quando nós não aceitamos é muito mais difícil resolvermos. Obviamente que a vida continuou e as pessoas continuaram a viver, mas comprometidas”.

De acordo com Lucinda Giesta as pessoas tiveram que aprender a “viver com”, o que significa que esta situação não se “ultrapassa”, uma vez que é algo doloroso e que “deixa uma marca”. Houve, por isso, uma readaptação aos vários níveis, quer ao nível do próprio individuo, do organismo, da esfera mental, ou seja, uma readaptação de tudo à nova realidade.
“Há outros indícios que mostram que ainda hoje esta marca perdura e estamos a falar, por exemplo, da dificuldade de passar em pontes, dificuldades de entrar na água, fobias… Apercebo-me que algumas pessoas ainda têm essas fobias decorrentes da tragédia e acho que isso mostra que ainda há uma marca”
A construção de um memorial ajudou, em parte, as famílias, uma vez que estas se aperceberam que ali tinham um local onde se podiam encontrar com outras pessoas que sentem a mesma dor e partilham do mesmo sentimento. “Isto é um fato de proteção comunitária”, conta Marlene.
A casa de acolhimento
“Foram 20 anos entre num paradoxo entre a vida e a morte. São os que choram pela perda da vida e os que lutam por uma vida melhor. Nós sabemos que, se é verdade que a morte desafia a vida, também não é menos verdade que a vida desafia a morte. E então a proposta desta associação recaiu claramente na vida. E como recaiu na vida, são muitas as crianças que têm beneficiado com o acolhimento e com a nossa intervenção”, conclui Marlene Gomes como referência à atual casa de acolhimento criada pela associação para acolhimento de crianças órfãs ou que passam por necessidades.